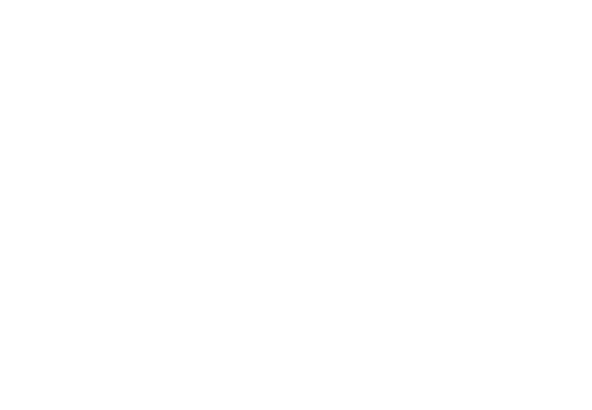Por Amanda Sthephanie
Em geral, quase nunca escrevo em primeira pessoa. Mas dessa vez, como estudante de jornalismo, eu preciso. Na faculdade, todos lembraram nosso dia e nos parabenizaram por isso. Muitos de nós escrevemos textos ou compartilhamos publicações prontas sobre o dia que representa a profissão da qual queremos nos orgulhar. E nos orgulhamos? Meus colegas, talvez sim. Eles representam a maioria branca e elitista do jornalismo e de diversos outros cargos importantes que detêm poder. Eu não me orgulho.
Infelizmente, na sala de aula, somos eu e mais quatro ou cinco negros. Por coincidência ou não, desses poucos, a maioria é minoria por mais de um motivo. Tem quem sai todos os dias umas três horas antes da aula para chegar a tempo à faculdade, porque é periférico. Tem também quem lida com o preconceito à sua sexualidade, porque é LGBT. Tem ainda quem defende o feminismo preto, porque é além de negra, mulher. E – engraçado – que esse feminismo preto, em geral, já se associa ao periférico porque, óbvio, a maioria da população negra se concentra nos espaços vulneráveis e marginalizados.
Na verdade, a minha turma até é composta por outros negros mas que, infelizmente, não sabem ser. Isso porque – meu professor de cultura brasileira já ensinou – o Brasil não tem identidade: mistura de índio, europeu e africano. É mesmo difícil entender quem se é. Eu me descobri negra há poucos anos e reconheço o colorismo. Sou filha de um preto e uma branca, o que me rendeu tom claro. Reconheço ainda os contextos raciais que me definem negra. No continente africano, talvez eu seja “meia branca”, como relatam alguns leitores de Angola. No continente europeu, talvez eu seja bastante negra.
Minha turma majoritariamente branca já explica o jornalismo majoritariamente branco. O problema é estrutural. A maior parte dos jovens negros mortos é negra. Quando vivos, estão nos espaços marginalizados cerceados pela omissão do governo sobre suas condições. Nesses lugares, a educação é falha, a saúde é fraca, a segurança é frouxa. Nesse contexto, o jovem negro não alcança as universidades. Tanto não alcança que outro dia conversei com a antiga coordenadora do curso, que me contou ter se esforçado para contratar uma professora negra e não ter conseguido. Infelizmente, no curso de comunicação não há professores negros – nem mulheres, nem homens.
Dos poucos que alcançam a universidade, se deparam com o racismo institucional. No fim, quando já estão lá dentro percebem que a permanência é ainda mais difícil do que a entrada. Nesse momento, colegas e professores disparam uma série de discursos opressores, conforme algumas recentes campanhas denunciaram. Os que permanecem, pelo menos no curso de jornalismo, são surpreendidos durante as entrevistas de estágio a que são submetidos. O estágio é obrigatório, mas o respeito do entrevistador, não. Direta ou indiretamente, muitos colegas e eu já fomos vítima do racismo na área em que buscamos trabalho.
Afinal, principalmente nos meios como a televisão, onde é trabalhada a imagem, os cabelos crespos não são parte do roteiro. Nem das mulheres, nem dos homens. Quando há quem nos represente, não nos enganamos. Sabemos que quem dá lugar à ditadura do liso é a ditadura do cacho. Cabelo cacheado é aceito, cabelo crespo não. Em geral, comunicadores não podem chamar atenção: nem no cabelo, nem nas unhas, nem nas vestes… E pelo visto, nem na cor.
Aos poucos, conquistamos espaço na grande mídia. Mas é esse chamado ‘quarto poder’ que nos invisibiliza quando reproduz notícias que nos segregam ou que nos dissociam. O tratamento às parcelas marginalizadas nas notícias é outro: jornalismo imparcial só existe na faculdade. A inclusão das minorias na comunicação é precária por dois motivos: porque o contexto do jovem negro é, geralmente, difícil e sem acesso à educação e porque os espaços não nos aceitam facilmente.
Então, cadê o jornalista negro? Depende. Pode estar morto porque a violência é grande contra quem usa preto na pele. Pode estar desempregado porque não quis alisar o cabelo. Pode estar trabalhando no mercadinho da vila porque faculdade é cara. Pode ainda, como eu e alguns colegas, ser bolsista numa boa universidade que demonstra, todos os dias, o racismo institucional a que somos submetidos. Pode estar em muitos lugares. Em qualquer um deles, sente ou já sentiu a excludente comunicação sobre a população negra.